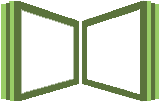O Segredo da Orelha Verde
O meu nome é Álvaro Magalhães. Nasci no ano de 1951 na cidade do Porto, onde sempre vivi (e onde sempre viverei, acho eu). Quando era pequeno brincava na rua estreita onde morava, envolvendo-me sobretudo em renhidos jogos de futebol que eram interrompidos quando passava um automóvel. Às vezes, porém, faltava aos jogos e passeava sozinho pelas ruas à volta, onde não conhecia ninguém. Ou então ficava em casa a imaginar coisas. Nessas alturas, a rua inquietava-me, com os seus vários ruídos e a ofegante respiração de tudo. Preferia encher cadernos pautados com poemas e intermináveis histórias. Já então necessitava de inventar poemas e histórias. Aliás comecei por escrever e publicar poesia, e também fui editor de poesia durante alguns anos. Ainda hoje, a poesia é a matriz de quase tudo o que escrevo, seja o que for, e está sempre presente, não como resíduo mas enquanto essência.

|
Por volta dos meus 11, 12 anos, na escola, descobri que, afinal, a escrita era a minha vocação mais forte, graças a um professor de Português, o “setôr” Órfão. Nos dias de teste, ele escrevia as perguntas de gramática e interpretação no quadro negro com uma letra aflitivamente miudinha. Acontece que eu era míope, mas recusava-me a admiti-lo para evitar que os meus pais me obrigassem a usar os óculos que me iriam desqualificar aos olhos dos outros. Quem ia admitir que um “caixa-de-óculos” defendesse a baliza da equipa de futebol da turma? E as raparigas? E o resto? Como podia eu encontrar o meu lugar num mundo tão vasto e tão perigoso com uns óculos de lentes grossas pousados no nariz? Da minha carteira, a meio da sala, só via no quadro uma névoa de poeira esbranquiçada e, então, pedia autorização para me levantar e subir ao estrado, onde as letrinhas brancas ganhavam uma nitidez luminosa.

|
Quando regressava ao lugar as frases misturavam-se na minha cabeça e às vezes nem de uma questão inteira eu me lembrava. Voltava a repetir a operação mais uma ou duas vezes e depois desistia e investia tudo na composição escrita, a que chamávamos redacção.
O setôr Órfão apreciava desmedidamente as minhas composições, que lia muitas vezes em voz alta, e dava-me sempre uma positiva elevada, apesar de eu permanecer alheio à maior parte das questões que ele levantara. Não faltava quem me superasse nos conhecimentos de gramática, quem lesse mais e melhor do que eu, mas o “setôr” Órfão considerava que nada disso era tão importante como as minhas redacções e no final do ano ofereceu-me a inesquecível coroa de glória de "melhor aluno" a Português, algo que nunca mais se repetiria. Levantei-me, incrédulo, para receber o troféu (uma edição de “Uma Família Inglesa", de Julio Dinis, que ainda hoje guardo carinhosamente), a pensar na gloriosa injustiça dessa eleição.

|
Todos temos o dom de ser capazes. Mas de quê? Quando temos doze anos precisamos muito de saber essa resposta e raramente a encontramos. O “setôr” Órfão falava-me de livros e de poemas e de histórias e de escritores mas não me mandava ler, o que teria feito de mim um leitor melhor do que o que sou. Mandava-me escrever. O que eu quisesse. Por quê e para quê é que nunca me explicou e hoje compreendo que não o poderia ter feito. Além disso, tratava-me como se eu tivesse uma estrela negra na testa que indicava com toda a clareza o meu destino, mais a sua natureza obscura. E se ele não tinha dúvidas, porque haveria eu de as ter? Passei a escrever desesperadamente, como se disso dependesse a minha própria sobrevivência. Claro que tanta competência literária acabou por me valer a exclusão da equipa de futebol. Como podiam os outros continuar a dormir descansados se a baliza da turma ficasse à guarda de um intelectual que, ainda por cima, era míope e mal via a bola? (Leiam o poema “O guarda-redes míope” e ficarão a saber mais sobre o assunto). Tudo isto se passou no ano em que eu tive "dezoito" a Português e "sete" a Matemática, e o meu pai não sabia se havia de me premiar ou castigar e acabou por fazer as duas coisas para ter a certeza de que estava a ser justo. Ainda hoje tenho as minhas dificuldades em questões matemáticas, só que agora já não me faz diferença nenhuma. Além disso, vinguei-me relativamente quando escrevi o conto "Maldita matemática!", um título que suscita sempre uma aclamação calorosa quando o menciono em assembleias escolares, e apaziguei-me quando escrevi o poema "Na aula de matemática", onde reencontrei plenamente esse rapaz fui e a quem estava, finalmente, dando voz: “Enquanto resolves o problema / olhas pela janela da sala / e lá fora passa a vida / - esse problema”. Era assim mesmo. O mundo parecia um monstruoso problema de matemática e eu fui-me convencendo de que só as palavras me podiam salvar de tanta complicação inútil. A elas me agarrei com unhas e dentes, como um náufrago que se agarra à tábua salvadora, e aqui estou eu agora, são e salvo, juntando pequenos feixes de palavras que brilham como constelações e me levam ao centro de toda a beleza. Imaginem!

|
Como disse, quando era novo sonhava ser poeta e, por isso, comecei por publicar quatro livros de poesia no início dos anos 80 antes de escrever o meu primeiro conto para crianças e descobrir que era essa a minha principal vocação. Quando a minha filha andava a aprender a ler eu escrevi para ela a história de uma menina que visitava o país das letras e das palavras: "História com muitas letras". Daí em diante nunca mais parei e até hoje já escrevi cerca de 40 livros para os mais novos. De vez em quando, lá faço um livro para adultos, mas logo regresso apressadamente ao meu habitat natural, uma espécie de “estado de infância”, onde reina a delicadeza de percepção da vida. Esse estado, que se alimenta também do que soube arrecadar da minha própria infância devolve-me a uma espécie de primeira natureza por oposição a uma segunda natureza, do pensamento racional e da realidade objectiva. E é muito consolador porque satisfaz a minha necessidade de sonho e de vida inconsciente. Há quem diga que enlouqueceríamos se não sonhássemos durante a noite. Eu acho que enlouqueceria se não sonhasse também durante o dia.

|
Claro que muitas outras vezes sou apenas o adulto corrompido pela usura do mundo, mas nessas alturas uso a minha orelha verde. É a orelha esquerda. Essa orelha ouve a linguagem das árvores, dos pássaros, das nuvens, das pedras, enquanto a outra, a direita, apenas ouve o que lhe interessa: as coisas úteis e exactas, as coisas que servem para alguma coisa, ou seja, a prosa da vida comum, quotidiana. Histórias fantásticas, maravilhosas, poemas, nada disso é com ela, são coisas que lhe soam estranhamente. Essa orelha, a verde, ficou-me dos meus tempos de menino, foi a mais preciosa das heranças, e continua a entender os mais novos e a ouvir e a ver coisas que os adultos já não conseguem distinguir.

|
É essa orelha, quer dizer, é essa abertura à vida, que me permite aceder à totalidade mágica da existência e entender os mais novos como se fossem companheiros da minha própria infância ou adolescência.
Agora que lhes contei o meu segredo, vejam lá se o sabem guardar.

|
E pronto, foi assim que tudo se passou. Quanto ao que se vai passar, apenas sei que, apesar de já ter escrito tantos livros, me parece que ainda estou a começar. Todos os dias escrevo e todos os dias tenho novas ideias para novas histórias. Só tenho medo de não ter tempo para as poder contar todas.

|