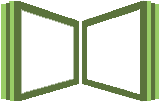Antes de aprender a ler, eu já «lia» bastante. Na minha casa havia dois grandes leitores: o meu avô materno e a minha mãe; e eu queria muito imitá-los. Folheava as páginas dos livros, enfiava-me pelas imagens e imaginava o que conteriam aqueles traços e pintas, as letras, que delineava com um dedo incerto.
E também «escrevia». Segurando com força o lápis, desenhava letras com um entusiasmo que rasgava o papel.
Depois, aprendi a decifrar as páginas dos livros e comecei a devorar as aventuras e desventuras de meninos estrangeiros e portugueses, pastorinhas dos Alpes, patos milionários, gémeos espartanos, cientistas, cowboys, exploradores e santas.

|
Lia sem regras nem censura prévia.
Mas não sentia a mesma liberdade para escrever. Havia temas fixos e fórmulas para as redacções que a professora nos mandava escrever:
— As Minhas Férias. Passava-as numa aldeia do Minho. Sete horas e três mudanças de camioneta depois de partirmos do Porto, chegávamos à «terra», onde tudo, os cheiros, as pessoas, as casas, a comida eram diferentes. A minha avó rezava o terço e dormitava à lareira embalada pelo som das rodas dos carros de bois. E nós, eu e as minhas duas irmãs, andávamos à solta pela aldeia todo o dia. O vizinho da minha avó tinha vivido na Rússia em 1917, nos Estados Unidos durante a Depressão, em França na Segunda Guerra Mundial — dizia ele, um leitor compulsivo, e nós acreditávamos. Havia uma americana velha que usava calças e fumava cigarrilhas (!) pelos caminhos da aldeia, uma minhota de olho azul que vivia numa casa sobre estacas, onde tecia mantas de trapos o dia inteiro e aturava o marido, um homem de nariz roxo com o nome intrigante de uma cidade do sul. Havia duas lojas, e a uma delas chegava o correio todas as tardes e era entregue numa cerimónia pública a que assistiam as avós da aldeia. Eu gostei muito das minhas férias. Eu nas minhas férias fui à praia e ao campo, convivi com amigos e com os meus primos e fizemos um piquenique. Eu fiz os trabalhos de casa de férias todos.
— Animais Nossos Amigos. Tivemos uma gata cinzenta e depois o filho dela, que era preto e branco, cleptomaníaco (roubava, carne e peixe frescos). E estóico: fechei-me um dia com ele na casa de banho e obriguei-o a tomar um duche; nem um miado, nem uma tentativa de escapar à tortura com umas boas arranhadelas. Tínhamos um cão, que não suportava risadas, correrias, palmas, vassouras, arrastar de cadeiras ou quaisquer movimentos bruscos em geral, e mostrava o seu desagrado mordendo quem lhe perturbasse a modorra melancólica. Os animais nossos amigos são o cão que guarda a nossa casa, o gato porque caça ratos, o burro que puxa carroças, a vaca porque nos dá o leite, o queijo e a manteiga, as galinhas que nos dão os ovos…
— O Natal. Rabanadas, bolo-rei, aletria. Presépio, pinheiro, presentes. Desilusões, porque o Pai Natal do azulejo do Bazar dos Três Vinténs, apesar de ser meu vizinho e eu o visitar com frequência, não tinha compreendido mais uma vez que era para trazer tudo, tudo o que estava nas montras do bazar. No Natal comemoramos o nascimento do Menino Jesus. No Natal, devemos ser todos muito amigos uns dos outros e pensar nos pobrezinhos que não têm nada.
Emoldurava estas minhas redacções com grinaldas de flores fáceis (malmequeres, amores-perfeitos, cravinas) enquanto a casa estremecia com a passagem do eléctrico na Rua de Cedofeita — e o cão rosnava, enroscado aos meus pés, no desvão das escadas onde tínhamos a secretária e as estantes com os livros escolares. Tinha Bom+ (vírgulas a mais, acentos a menos), ou Muito Bom. Não era Suficiente.

|
Mais tarde, quando já andava no liceu, comecei a arrecadar palavras dos livros que lia — «transeunte», «inefável», «efémero», «recôndito» … — para as polvilhar, como canela no leite-creme, sobre as composições que escrevia. Coleccionava-as, mas não eram minhas. Ainda hoje, o significado de «recôndito» persiste em esconder-se pelos cantos e não me atrevo a usar a palavra à toa. É uma sensação inefável mas duradoura.
Como a que me dão os livros. Pego num livro acabadinho de sair da tipografia e o cheiro do papel fresco quando o folheio promete-me viagens, gente nova, sensações reais. Encontro um livro com uma assinatura elegante a tinta castanha na página amarelecida e apetece-me ser outra vez pequena e, sentada ao colo do meu avô, estudar aquela Pedra de Rosetta e decifrar os hieróglifos.

|
Por volta dos vinte anos, quando já andava na Faculdade de Letras a estudar literatura, escrevi um conto sobre um vendedor de enciclopédias. Era um conto irónico, subtil e cheio de subentendidos que nem eu mesma compreendia bem, e ganhou um prémio: a frequência de um curso de Verão numa escola de línguas em Inglaterra.

|
Continuei a escrever, mal e pouco. As regras da escola primária ainda me dominavam, mas já não desenhava flores à volta dos meus textos. Lia sem regras; e lia com uma caneta vermelha as redacções dos meus alunos — fui professora de Português durante vários anos.

|
E então, fui viver para Inglaterra.

|
Escrevi uma tese de mestrado. Conheci o Basil, que é um homem da música e dos livros. E quis deixar de escrever apenas à volta do que outros escreviam, fossem eles alunos ou escritores consagrados. Inventei uma história para o meu sobrinho Zé Manel, que ainda não sabia ler. Chamava-se Três semanas com a avó e a aldeia do Minho onde eu tinha passado as férias grandes era a protagonista. O livro foi publicado e eu senti por fim que era escritora. Uma ilusão, claro. Não sou escritora, escrevo.

|
Continuei a dar aulas, fiz ainda um doutoramento em Glasgow. Mas agora a escrita é a protagonista da minha vida. Já não sou professora. Vivo no campo, na Irlanda do Norte, numa casa à beira-ria e, nos intervalos da leitura, dos passeios com a minha cadela Lily e do convívio com os amigos, traduzo livros (uma forma de ler com muita atenção) e escrevo a tempo inteiro. Satisfaz Plenamente.

|